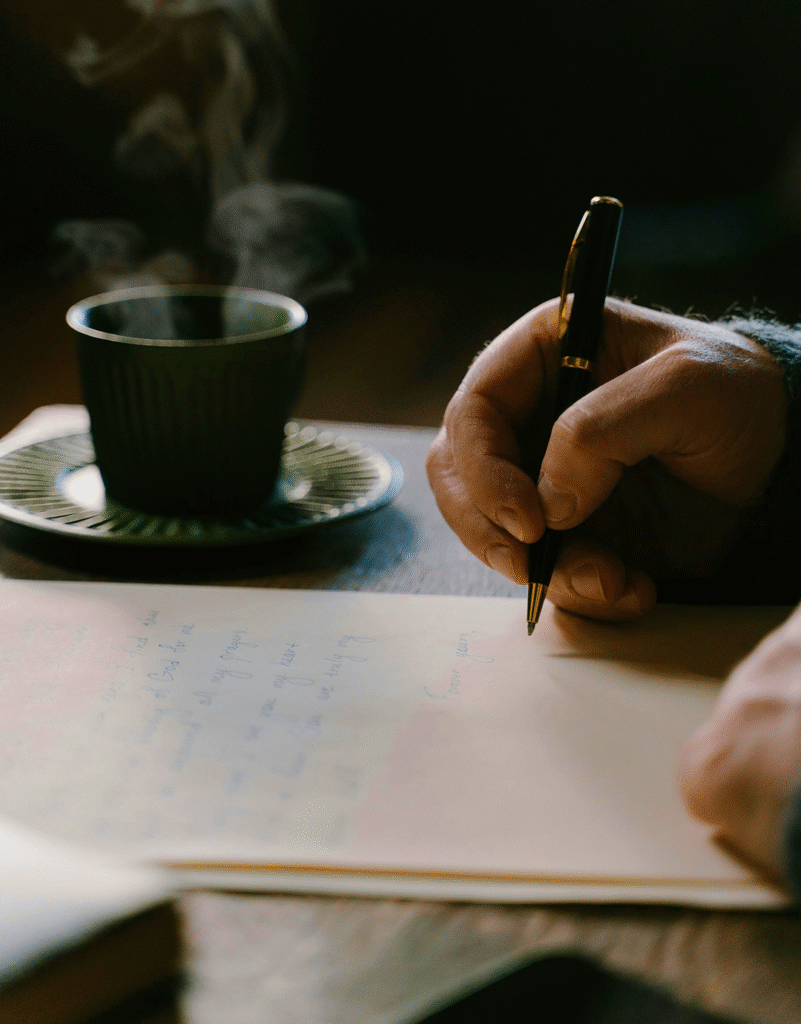
O poema é uma das formas mais antigas de expressão literária, usado desde as primeiras civilizações para registrar histórias, sentimentos e rituais. Na Grécia do século VIII a.C., Homero já narrava feitos heroicos em versos na ‘Ilíada’ e na ‘Odisseia’. Com o passar dos séculos, a poesia se adaptou a diferentes contextos históricos e políticos: no Brasil, durante o Romantismo do século XIX, autores como Castro Alves usaram o poema como instrumento de denúncia contra a escravidão, como em ‘O Navio Negreiro’ (1869).
O primeiro passo para escrever um poema é definir a intenção e o tema. Poemas podem expressar amor, indignação, nostalgia ou contemplação. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial (1914–1918), poetas como Wilfred Owen escreveram versos sobre o horror das trincheiras, como em ‘Dulce et Decorum est’ (1917), dando voz à dor coletiva e individual.
O segundo passo é escolher a forma poética. Pode-se optar por formas fixas, como o soneto (14 versos com métrica e rima regulares, muito usado por Luís de Camões no século XVI), ou formas livres, comuns no modernismo, como nos poemas de Carlos Drummond de Andrade. A escolha da forma influencia o ritmo, a musicalidade e até o impacto emocional da obra.
As rimas merecem atenção especial. Elas podem ser emparelhadas (AABB), alternadas (ABAB), opostas (ABBA) ou livres, e ajudam a criar cadência e memorização. Na poesia tradicional, a rima era quase obrigatória, reforçando a harmonia do texto; já na poesia moderna, ela pode ser usada de forma mais sutil ou mesmo abandonada, permitindo maior liberdade criativa. Por exemplo, Olavo Bilac, no Parnasianismo brasileiro, utilizava rimas rigorosas para criar poemas de grande apuro formal, enquanto Manuel Bandeira, no Modernismo, preferia um uso mais flexível.
Outro elemento essencial é o uso das imagens poéticas e figuras de linguagem. A metáfora, a aliteração e a personificação são recursos que tornam o poema mais sensorial e profundo. No contexto político, isso permitiu que poetas transmitissem mensagens de forma velada em períodos de censura. Durante a ditadura militar no Brasil (1964–1985), Ferreira Gullar usou metáforas para criticar a opressão sem se expor diretamente à repressão.
O eu lírico, a voz que fala no poema, deve ser coerente com o tom e o objetivo da obra. Ele pode ser pessoal, colectivo, fictício ou simbólico. Por exemplo, em ‘Morte e Vida Severina’ (1955), João Cabral de Melo Neto assume um eu lírico sertanejo que narra a vida dura no Nordeste, entrelaçando crítica social e beleza estética.
Por fim, é essencial revisar e lapidar. A poesia é tanto inspiração quanto trabalho artesanal. Cortar excessos, buscar a palavra exata, ajustar o ritmo e decidir se a rima será protagonista ou discreta são etapas indispensáveis. O poema precisa soar bem, seja lido em silêncio ou em voz alta.
Escrever um poema é, portanto, um acto de sensibilidade e precisão. É transformar emoções, ideias e imagens em palavras que ecoam no leitor, atravessando épocas e fronteiras.
____
Referências:
- HOMERO. Ilíada e Odisseia. Grécia, século VIII a.C.
- CAMÕES, Luís de. Sonetos. Século XVI.
- ALVES, Castro. O Navio Negreiro. 1869.
- BILAC, Olavo. Poesias. 1888.
- CABRAL DE MELO NETO, João. Morte e Vida Severina. 1955.
- GULLAR, Ferreira. Dentro da Noite Veloz. 1975.


 using WordPress and
using WordPress and
No responses yet